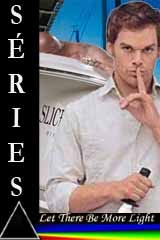Zumbis? Há muito tempo os mortos-vivos não metem medo e citar hoje a palavra pouco significa para o agonizante cenário dos filmes de horror.
Isso até a feliz chegada de “The Walking Dead” a série produzida pela AMC que colecionou sucessivos recordes de audiência na televisão à cabo nos Estados Unidos. O último episódio teve nada menos do que 6 milhões de telespectadores, um número absurdo para os padrões de produções normais.
Lutando contra o improvável abismo que existe entre o cinema e a televisão a série surpreendeu ao mostrar que a aposta no seguimento, que se mostrava agonizante de cérebro e idéias no cinema(“Resident Evil e “Quase Todo mundo Morto” não dá né?), era válida em outro formato.
Com a mão certeira de Frank Darabont(“Um Sonho de Liberdade”, “Á Espera de um Milagre”) por trás do projeto, a primeira temporada agradou aos telespectadores e a crítica, e apesar de ter apenas seis episódios, já mobilizou fãs suficientes para garantir sua sobrevivência por mais um ano.
Baseada nas hq´s de Robert Kirkman, a série tem uma produção cheia de estilo, uma fotografia competente e uma equipe de maquiagem capaz de “zumbificar” seu elenco de forma bastante convincente - o que é essencial em uma era aonde nada mais surpreende quando o assunto são efeitos especiais/visuais.
Os clichês estão presentes, mas sempre com algo a mais e isso fica claro desde o primeiro episódio. Se existem balas e sanguinolência, existe também um teor emocional embutido nas cenas. Os zumbis não são exatamente “mortais”, “famintos” e “perigosos”; na realidade um ser humano normal com um taco de beisebol consegue derrubar sem dificuldade um morto vivo. O medo está baseado na falta de esperança e no desespero da perda de pessoas queridas para o estado de pós-morte.
Uma contaminação global fez com que o número de zumbis superasse em muito o número de seres humanos. As cidades estão desertas, não existem governos e quase nenhum grupo organizado de sobreviventes. Arrumar água, alimentos e abrigo é um problema sério. Quase todas as personagens presenciaram a morte de alguém de suas famílias e isso inclui velhinhos e crianças. Não existe pista sobre a cura da “doença” que transforma seres humanos em zumbis, só se sabe que ela age no cérebro e que qualquer um mordido, arranhado ou exposto ao sangue dos mortos-vivos está condenado.
Nesse cenário ressurge com maestria a boa e velha temática que sinceramente pensei estar obsoleta para o telespectador moderno.
A indústria do medo fantástico está em declínio já há algum tempo. Nossas crianças já crescem informatizadas e com menos de dez anos já trucidam monstros (e humanos!) em vídeo games de alta geração. Não existe mais o fascínio pelo sobrenatural e sim uma racionalidade excessiva. Não tememos vampiros, lobisomens e monstros, mas o stress, o infarto e a síndrome do pânico.
Para uma geração significativa, que responde por grande parte das receitas dos cinemas, após “Harry Potter” e mais recentemente “Crepúsculo”, vampiros, bruxos e outros seres sobrenaturais se tornaram “bacanas”, despertam admiração e curiosidade – e não medo. Pode?
Dito isto, acredito que “The Walkng Dead” aposta justamente aonde outros falharam. No medo do desconhecido.
Sem essa de temer o camarada maquiado que se arrasta em sua direção. Não existe o medo do óbvio ou da escatologia presente em cenas de violência explícita.
A morte é sempre a razão final de todos os temores e a série usa e abusa disso. Poderiam ser zumbis, ou apenas um vírus mortal, mas o que desmorona a racionalidade do ser humano e apela para seus mais primitivos instintos de medo é a sensação perene de perigo.
Tanques de guerra, arsenais nucleares, laboratórios de última geração, nada foi capaz de impedir a morte de avançar sobre milhões, talvez bilhões, de pessoas que agora caminham sem nenhuma lembrança do que um dia foram.
Falhar e falhar consecutivamente na simples tarefa de sobreviver é esse o fardo carregado pelos sobreviventes de “The Walking Dead”.
Confesso que não senti medo em nenhum episódio, mas um desconforto, uma impaciência e uma série de frustrações contínuas que não sei o que são. As cidades desabitadas são no mínimo perturbadoras.
Se o sonho dos adolescentes hoje é entrar no mundo de “Crepúsculo”, nosso “terror” moderno, de uma coisa eu tenho certeza: não trocaria minha poltrona pela vida pós-apocalíptica de “The Walking Dead” nem que a Krirsten Stewart me chamasse usando só um baby doll.
E isso é mais do que suficiente para temer.