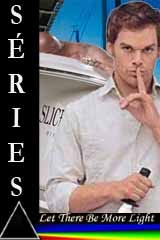Vemos bucetas diariamente, na televisão, em sites, em revistas, na nossa cama esperando pelo coito, em nossa imaginação despimos a mulher mais próxima; e para não correr o risco de ser machista ou sexista as mulheres também vêem e imaginam pintos.
quarta-feira, novembro 25, 2009
Poema Sujo - Ferreira Gullar
Vemos bucetas diariamente, na televisão, em sites, em revistas, na nossa cama esperando pelo coito, em nossa imaginação despimos a mulher mais próxima; e para não correr o risco de ser machista ou sexista as mulheres também vêem e imaginam pintos.
terça-feira, novembro 17, 2009
Em defesa do Ecletismo

Boa noite amigos leitores. Sei que há tempos não escrevo aqui e isso se deve a uma pequena confusão minha e do Japa na ordem de publicação e, admito, a um esquecimento meu há algumas semanas. Também tenho que confessar que não ando lendo ou assistindo, ou mesmo ouvindo, algo que possa considerar relevante.
No entanto, li recentemente um texto no Blog da Luciana Sabbag sobre Edith Piaf e, nos comentários, uma crítica aos que se dizem ecléticos. Explico. Luciana escreve sobre a intérprete francesa e se diz eclética, citando outros artistas que também gosta de ouvir. Nos comentários, uma senhorita afirma que os ecléticos são confusos e dá a entender que gostar do clássico é mais adequado do que procurar boas coisas para ouvir em todos os estilos.
Bom, pelo que já foi publicado nesse blog, já deu para perceber que tanto eu quanto o Japa somos ecléticos. E por isso venho em defesa da nossa classe.
Sou da opinião de que em todo estilo musical é possível obter prazer. E é isso que busco na música: prazer. Algumas canções podem não ser de um primor técnico, porém sua carga emocional ou a lembrança a que ela nos remete valem o ouvido indulgente.
Comecei, há muitos anos, gostando dos clássicos. Minha mãe costumava ouvir uma fita cassete dos “Concertos Internacionais” e aquilo era maravilhoso. Beethoven, Mozart, Strauss, Wagner. Houve também uma fase em que os rádios lá de casa tocavam Sinatra e Nat King Cole. Outro que sempre esteve presente foi o rei Roberto. Cauby, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Ney Matogrosso, Elis Regina, tantos nomes. Os sertanejos passaram por lá, igualmente: João Mineiro e Marciano, Tião Carreiro e Pardinho, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó etc etc etc.
Não sei se vocês estão entendendo aonde quero chegar. O ponto é que essas músicas todas me acompanham desde muito cedo, e trazem memórias das quais é muito bom lembrar. Desde o Roberto Carlos nas viagens para ver a família, eu pequeno e passando mal no carro (sempre vomitava), até Strauss e suas melodias fortes que me enchiam o peito com uma vontade louca de desafiar minha mãe e ir brincar lá fora a noite.
Com o tempo, fui conhecendo tantas outras coisas e tantas outras memórias foram sendo ligadas a novas músicas. O Jazz que me dá uma nostalgia de não sei quê, ou o Bolero de Ravel que ouvi a Osesp tocar na cidade de Bauru, onde fui tão feliz na faculdade. Até mesmo o pagode de fim de semana, nos churrascos da vida, com os irmãos/amigos que fiz durantes o meu curso de jornalismo. Chego a admitir, inclusive, que o funk das festas de repúblicas, com as meninas dançando e todo mundo louco acompanhando, me traz boas lembranças.
Sertanejo universitário e festas de peão. Lembranças de quando eu andava a cavalo e sentia o vento e o cheiro do mato tocando gado
Não... Não são só lembranças. São também vontades, desejos, até mesmo viagens... Viagens em espírito, por meio da música, a lugares que talvez eu jamais conheça, ou que tenho a ânsia de conhecer. O hinos celtas da Escócia e Irlanda me colocam mais perto do meu sonho de conhecer as ruínas dos círculos de pedra do povo antigo. O pagode que eu ouço, não mais em um churrasco com os amigos, me deixa mais próximo deles novamente, mesmo que por alguns minutos. O Jazz me traz o cheiro, o gosto, a vontade, de uma época que não vivi.
Sim, sou eclético. Sou complicado também. Sou humano também. Bebo cerveja, cachaça, refrigerante vagabundo, vinho francês e uísque 12 anos. A minha busca é por prazer. Ouço música por isso. Não é me restringir a uma coisa, mas estar disposto a achar algo bom em todo lugar.
Dá trabalho, eu sei. Mas vale a pena...
terça-feira, novembro 10, 2009
Amargo Pesadelo - John Boorman (Deliverance, 1972)
terça-feira, outubro 27, 2009
Tudo Acontece em Elizabethtown (2005)
 Que tal um filme agradável e bonitinho para assistir com a namorada no feriado? Então alugue Elizabethtown, traduzido porcamente como Tudo Acontece em Elizabethtown. Acreditem, nem tudo acontece. Mas o que acontece vale a pena ser visto e passa uma boa mensagem. É um filme descompromissado mas que, eventualmente, te dá pequenas lições de vida.
Que tal um filme agradável e bonitinho para assistir com a namorada no feriado? Então alugue Elizabethtown, traduzido porcamente como Tudo Acontece em Elizabethtown. Acreditem, nem tudo acontece. Mas o que acontece vale a pena ser visto e passa uma boa mensagem. É um filme descompromissado mas que, eventualmente, te dá pequenas lições de vida.Dirigido por Cameron Crowe - relevante por dirigir o ótimo Vanilla Sky em 2001 -, a produção segue a linha de outros trabalhos do diretor, como Jerry Maguire (1996). Importante dizer que ele é o diretor e produtor de Quase Famosos, de 2000, um ótimo filme sobre um jornalista adolescente que, nos anos 70, embarca na turnê de uma banda de rock para escrever sobre ela.
Como em Jerry Maguire, Elizabethtown toca o lado sensível do espectador. A história tem a seguinte sinopse: jovem designer de calçados lança um tênis que quase leva sua empresa à falência; a namorada o larga após o fracasso e ele pensa em suicídio; o pai do rapaz morre nesse momento; a mãe e a irmã do protagonista o elegem para organizar os funerais em Elizabethtown, cidade natal do pai; no avião o designer conhece uma jovem aeromoça que se intromete em sua vida de uma forma muito graciosa.
Bom, esses são os ingredientes básicos. Adicione Susan Sarandon como a mãe de Drew (protagonista) e Kirsten Dunst como Claire Colburn, a espivitada aeromoça. O jovem designer fica a cargo de Orlando Bloom, que não tem como errar ao desempenhar a apatia de um homem fracassado.
Destaque para a trilha sonora que tem, inclusive, a perfeita Free Bird, do Lynyrd Skynyrd, e a poética Pride, do U2. Entre outras grandes canções. Trilha de muito bom gosto.
Entre dar um prejuízo bilionário à empresa e tentar suicídio, Drew decide enterrar seu pai antes de dar adeus ao mundo. Na sua cidade natal conhece mais a fundo sua família e constata o quanto o pai era amado. Nesse meio tempo, entra em contato com a aeromoça que, insistentemente, o fez decorar o caminho até Elizabethtown e, por algum motivo, deixou seu telefone.
Não é um filme de gargalhadas. Mas é bonito. Os diálogos são bem legais e na cerimônia em homenagem ao morto, o discurso de Susan Sarandon sobre o marido é tocante.
 No elenco de apoio ainda surgem nomes como Jessica Biela (ex-namorada de Drew) e Alec Baldwin (o frio Phill, chefe do personagem de Orlando Bloom).
No elenco de apoio ainda surgem nomes como Jessica Biela (ex-namorada de Drew) e Alec Baldwin (o frio Phill, chefe do personagem de Orlando Bloom).Se você não tem nada melhor para fazer no feriadão, alugue e assista. A chance de se dar bem com namorada depois é ótima. Em todo caso, eu estarei na praia.
domingo, outubro 18, 2009
Bontsha, O Silencioso - Isaac Leib Peretz
Entre os diversos gêneros literários, um que me agrada em especial é o conto. A habilidade de narrar em poucas palavras uma história marcante é sem dúvida uma arte para poucos.
Mesmo os melhores dentre os melhores contistas intercalam momentos de genialidade com o marasmo do lugar comum; impossível ser genial e inovador sempre.
Até os grandes escritores sentem a dificuldade de criar triunfos indiscutíveis em um gênero tão superlotado de aventureiros que escrevem a torto e a direita - tornando o processo de selecionar boas narrativas curtas um processo árduo, porém prazeroso.
O conto escolhido para exemplificar esse caso é o genial “Bontsha, O Silencioso”, uma pérola de lucidez e genialidade concebida pelo escritor polonês Isaac Leib Peretz(1852-1915).
Para nós brasileiros a quase desconhecida obra deste escritor judeu poderia seguir no anonimato sem que com isso sentíssemos falta de bons contos para ler. Por isso a escolha dessa semana, não foi simplesmente para parecer diferenciado ou tentar atribuir a este espaço uma pseudo aura cult pré-fabricada. Nada disso, existe apenas a necessidade de levar a luz a uma obra pouco conhecida mas que merece ser visitada (“Let There be More Light”...o nome não é por acaso.)
É aquela motivação que acontece espontaneamente após terminar um bom livro, assistir a um bom filme ou ouvir um grande disco. Você simplesmente quer que mais pessoas conheçam determinado trabalho e essa sensação se torna ainda mais urgente quando se trata de obras obscuras ou pouco convencionais.
Peretz entrega em seu conto uma história peculiar sobre o ser humano. Bontsha, nunca reclamou, sentiu ódio ou reagiu a qualquer coisa, sem se queixar de Deus, dos homens ou da sociedade sua vida é marcada por um inconfortável silêncio diante da injustiça.
A narrativa tem início com a morte do protagonista e com um desconfortável sarcasmo diante da pequenez humana.
 Bontsha é apresentado como um miserável esquecido e desprezado por todos, sua morte e sua história são marcadas pelo anonimato social.
Bontsha é apresentado como um miserável esquecido e desprezado por todos, sua morte e sua história são marcadas pelo anonimato social.Diante do júri celestial a vida da personagem passa a ser revisitada com um humor caustico pelos anjos que revezam a palavra entre acusação e defesa.
Como julgar alguém que não fez nada de mal a vida toda ?
Falar mais seria estragar a experiência. Para aqueles que desejam ler a história disponibilizo um link para o e-book na Internet, lembrando que o conto foi publicado na coletânea “Os Cem Melhores contos de Humor da Literatura Universal”.
Não se enganem, o texto não faz rir, na verdade causa uma sensação de desconforto nauseante em seu final, humor negro que dá um tapa na cara da hipocrisia com ares de fábula de Esopo.
Se lerem comentem.
quinta-feira, outubro 08, 2009
Playing with My Friends: Bennett Sings the Blues - Tony Bennett
Hoje pensei em falar sobre a carreira de Tonny Bennett, um dos meus cantores favoritos. Porém, optei por deixar isso para depois. Trabalharei melhor a idéia e tentarei usar uma idéia interessante na composição. Por hora, me restringirei a um único álbum.
Playing with My Friends foi gravado em 2001 e contou com participações de músicos de peso. Um exemplo: B.B. King. Querem mais? Que tal Ray Charles!? As 15 canções do álbum têm releituras muito boas e é refrescante ver Bennett, no alto de uma carreira cinquentenária e coroada por 15 Grammys, cantar Stormy Weather ao lado de Natalie Cole.
Só para contextualizar: Tony Bennet é ítalo-americano, novaiorquino do Queens, e é considerado a segunda maior voz do século XX na música popular americana, além de merecer elogios da própria primeira voz, The Voice, Frank Sinatra: "Ele (Bennett) é meu ídolo". Ele tem a firme convicção que apenas o talento não faz um bom músico, e sim o estudo e a dedicação. Suas paixões são a música e a pintura.
Contextualizados? Sigamos...
Os duetos contidos em Playing with My Friends ainda revisitam Alright, Okay, You Win, blues alegre e convidativo que conquistou os americanos na década de 70 (na voz de Joe Willians). Diana Krall empresta seu possante vocal para a composição rouca de Bennett.
Blues in the Night é um solo, mas funciona como um afirmação. Ela é a terceira canção do álbum, e é precedida por duetos. Nesse instante pode surgir a dúvida: será que Tony ainda está com essa "bola toda" ou são as parcerias que seguram a coisa toda? Como disse, Blues in the Night significa que, apesar da idade (75 na época), Tony Bennett entrou o século XXI ainda sendo uma das maiores vozes da música: o cantor brinca com a voz e entra no espírito blues.
Para os menos informados, ele é o maior intérprete de jazz vivo, já que Sinatra morreu. E sua especialidade é música popular americana. Uma olhada na sua discografia e nos seus maiores sucessos comprova tal fato. O blues não é uma constante. Mais um diferencial que valoriza Playing with My Friends.
Ray Charles, com sua voz inexplicável (não acho adjetivos adequados. Perdão, sou fã), entra em Evenin' após um leve gemido, um "uuuhuuum", um detalhe que entrega o dueto. Você percebe que é Charles e pensa: "não tem como ser ruim". E não é.
Caso o típo de blues que você tem em mente é aquele da guitarra elétrica do Yardbirds ou de Clapton, aprenda que existem outras "pegadas" no estilo. A batida certa do violão e do baixo acústico, um TUUUUM TUUUM TUM, é que marca o blues. Mas fique feliz! B.B. King entra com guitarra e tudo em Let the Good Time Roll. É uma música que passa uma ótima sensação. É possível sentir a química entre os dois cantores. Ouvi há não muito tempo que é possível saber se alguém está sorrindo apenas pela sua voz, mesmo sem ver o rosto; é o caso.
Não menos importante é New York State of Mind, com Billy Joel. O balanço que a voz trinada de Joel empresta à música cai muito bem com o piano do maestro Ralph Sharon. E é de se pensar que New York seja mesmo um estado de espírito, tão rica, tão cheia de arte, de vida, de gente diferente; ela é mesmo um estado libertário de espírito. Mas estou divagando...
De qualquer modo, fica a dica para esse excelente CD. Infelizmente é uma dica que poucos seguirão, pois pouca gente ainda se dá ao luxo de conhecer Bennet, Sinatra, enfim, os grandes de antigamente, que soam como coisa de vô, coisa de pai e de mãe. Música de qualidade não tem idade, é atemporal. E só para constar: em 1994, Bennett cantou no MTV Music Awards com o Red Hot Chilli Peppers; em seguida foi convidado a gravar o MTV Unplugged; em 1995 ganhou o Grammy de melhor álbum do ano com o Unplugged.
Com certeza não foram só nossos pais e avós que o fizeram ganhar o prêmio. Vençam preconceitos e ouçam coisas diferentes. Hoje minha dica é Playing with My Friends. Boa noite!
1. "Alright, Okay, You Win" (duet with Diana Krall)
2. "Blue and Sentimental" (duet with Kay Starr)
3. "Blues in the Night"
4. "Don't Cry Baby"
5. "Evenin" (duet with Ray Charles)
6. "Everyday" (duet with Stevie Wonder)
7. "Good Morning Heartache" (duet with Sheryl Crow)
8. "I Gotta Right to Sing the Blues" (duet with Bonnie Raitt)
9. "Keep the Faith, Baby" (duet with k d lang)
10. "Let the Good Times Roll" (duet with B.B King)
11. "New York State of Mind" (duet with Billy Joel)
12. "Old Count Basie Is Gone"
13. "Playin' With My Friends"
14. "Stormy Weather" (duet with Natalie Cole)
15. "Undecided Blues"
quarta-feira, setembro 30, 2009
Verônica Sabino, Ana Cañas e Tiê
 Têm clássicos como “Todo Sentimento” de Chico Buarque, apelo pop com “Quase Um Segundo” de Herbert Viana, peso em “Blues em Braile” de Zeca Baleiro e a malemolência de Jorge Ben na música que dá nome ao trabalho.
Têm clássicos como “Todo Sentimento” de Chico Buarque, apelo pop com “Quase Um Segundo” de Herbert Viana, peso em “Blues em Braile” de Zeca Baleiro e a malemolência de Jorge Ben na música que dá nome ao trabalho. O problema é quando esse conflito homem/mulher extravasa os limites e propõe uma relação de antagonismo e não de dependência. Homens ou mulheres somos dependentes um do outro e ponto final. Tié não só aceita isso como resgata o charme da mulher MPB suplantada recentemente pela feminista MPB.
O problema é quando esse conflito homem/mulher extravasa os limites e propõe uma relação de antagonismo e não de dependência. Homens ou mulheres somos dependentes um do outro e ponto final. Tié não só aceita isso como resgata o charme da mulher MPB suplantada recentemente pela feminista MPB.terça-feira, setembro 29, 2009
Frost/Nixon (2008)

Não, não é quarta-feira da semana que vem... Pois seria o dia correto de escrever para o LTBML. Em todo caso, me explico.
Apesar de jornalista formado, sou também bancário, e estou em greve. Com tempo, fui à locadora e loquei Frost/Nixon, filme de 2008 e indicado a cinco categorias do Oscar. Assisti esta tarde e PRECISEI vir indicar.
Destaque para a sensacional caracterização de Frank Langella como o ex-presidente americano. O ator, auxiliado por uma maquiagem e por um figurino impecáveis, encarnou Richard Nixon sob as lentes de Ron Howard. Fiquei impressionado.
 Antes de ver o filme propriamente dito, comecei pelos extras e lá há trechos da real entrevista entre David Frost e o único presidente da história dos EUA a renunciar. Talvez por isso o meu choque ao ver o quão bem Langella interpreta Nixon. Do outro lado, Michael Sheen faz uma ótima leitura do que é/foi Frost – este último ainda está vivo e ativo na TV britânica.
Antes de ver o filme propriamente dito, comecei pelos extras e lá há trechos da real entrevista entre David Frost e o único presidente da história dos EUA a renunciar. Talvez por isso o meu choque ao ver o quão bem Langella interpreta Nixon. Do outro lado, Michael Sheen faz uma ótima leitura do que é/foi Frost – este último ainda está vivo e ativo na TV britânica.Para quem não sabe, o escândalo de Watergate aconteceu em 1972 e dizia respeito, resumidamente, a escutas instaladas em alguns escritórios do Partido Democrata e a perseguição a jornalistas e jornais contrários ao republicano Nixon e a sua postura com relação à Guerra do Vietnã. As entrevistas realmente concedidas a David Frost em 1977 são um registro histórico-político de uma confissão do ex-presidente americano. Por isso sua relevância.

Não me aprofundarei mais na história, pois meu texto deveria ser uma BREVE indicação. Saliento apenas um último item. Nos extras, Ron Howard diz que tentou arquitetar o filme de maneira a lembrar uma luta de boxe, onde cada pergunta de Frost representa um round entre Nixon e o entrevistador britânico. Decisão sábia do diretor. O filme nos prende justamente na tensão criada pelo embate e pela expectativa dos jabs seguintes
terça-feira, setembro 22, 2009
O Escafandro e a Borboleta (2007)

Depois de alguns dias dedicado a projetos diferentes, me animei a escrever antecipadamente o texto dessa semana no LTBML. Não que seja com uma antecedência gigante, mas está valendo.
Duas semanas atrás, um domingo qualquer, sem nada melhor o que fazer, peguei um DVD que o Japa gravou para mim. Nele havia alguns filmes, dentre eles O Escafandro e a Borboleta. Reconheci o nome dos indicados ao Oscar de filme estrangeiro desse ano (ou seria ano passado??? Já que o filme é de 2007). Assisti e aqui vão minhas impressões.
Baseado no livro homônimo de Jean-Dominique Bauby, a história fala de um homem que se descobre em um hospital no litoral francês após um derrame. Desavisados poderiam assistir como uma tocante história de superação, porém é realidade. Sim, o homem é Bauby, e o livro O Escafandro e a Borboleta foi “ditado” por ele através de uma linguagem complexa que usava piscadelas para indicar letras.

Jean-Dominique era um editor de sucesso na revista Elle e sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que o paralisou completamente à exceção dos olhos e do próprio pensamento. O filme e o livro mostram a luta de Bauby para se comunicar e a adaptação do jornalista ao seu mundo escafandro.
Além de uma história tocante, o filme é muito bonito. A fotografia é caprichada, e as tomadas de câmera foram feitas de forma a substituírem a visão do personagem e darem ao expectador a sensação de partilhar a prisão de Bauby. Chega a ser incômodo não ver a cabeça de alguns personagens enquanto estes falam com o protagonista. Igualmente desesperador é tentar seguir a ladainha de letras que são repetidas seguidamente para que Jean-Dominique pisque e formule frases.
A direção de Julian Schnabel, para mim um desconhecido, acerta nas idéias para te colocar no escafandro de Bauby. Ao mesmo tempo o filme não te faz ficar triste e nem desesperado. Pode ter sido apenas impressão minha, mas as fantasias ocasionais do personagem – muito bem ilustradas pela direção – deixam no ar um quê de O Fabuloso Destinjo de Amelie Poulain. Talvez seja porque o filme é francês e os franceses façam filmes assim hoje em dia; quanto a isso melhor procurar um blog especializado em cinema francês.
De qualquer modo, de minha parte fica a indicação de um ótimo filme. Não vou contar o final, então assistam. Ele caiu muito bem com um domingo frio e de sol, no meu chalé nas montanhas. Aliás, alguém mais sensível poderia até ter chorado. Não foi o caso. Mas o fato é que a condição de Bauby levaria à tristeza, sem que, no entanto, essa condição afetasse a beleza do filme e uma alegria camuflada por estar vivo.

E para terminar, destaque para a capacidade de Mathieu Amalric de interpretar um tetraplégico, ou seja lá qual o termo médico para alguém que só move um olho. O francês manda muito bem e não é um rosto totalmente desconhecido, já tendo participado de Munich, de 2005, e de Quantum of Solace, de 2008.
quinta-feira, setembro 17, 2009
Vanessa da Mata e Céu
Cansado de ler aqui e ali sobre nomes que nunca tinha ouvido cantar decidi dedicar algumas horas de meu tempo a audição de alguns talentos promissores da MPB. Particularmente o que me chamou atenção foi a nova geração feminina que tem despertado elogios rasgados tanto em território nacional quanto em turnês pela Europa e pelos Estados Unidos.
Muitos nomes soaram estranhamente familiares e decidi iniciar as sessões com a seguinte escalação:
Vanessa da Mata
Céu
Verônica Sabino
Ana Cañas
Posteriormente somei ao grupo a cantora Tiê por indicação de um amigo. Iniciei a audição nesta ordem, comecei por Vanessa da Mata, pois tinha lido uma ótima matéria na revista Rolling Stones e fiquei curioso. Em seguida ouvi a cantora Céu, que muitos tinham me indicado como um fenômeno da MPB; grande foi minha surpresa quando percebi que não se tratava exatamente de música “popular” tão pouco “brasileira”.
Postarei hoje minhas primeiras audições e daqui 15 dias as próximas.
Vanessa da Mata – Sons Diversos/ Multishow ao Vivo
 Um início promissor e confuso. Primeiro cheguei a conclusão que conhecia a cantora por causa do hit pegajoso “Boa Sorte” que ficou gastando nas FMs a algum tempo atrás, mas decidi ignorar esse detalhe e avançar como se estivesse em território totalmente desconhecido.
Um início promissor e confuso. Primeiro cheguei a conclusão que conhecia a cantora por causa do hit pegajoso “Boa Sorte” que ficou gastando nas FMs a algum tempo atrás, mas decidi ignorar esse detalhe e avançar como se estivesse em território totalmente desconhecido. Duas sensações iniciais me incomodaram na audição de Vanessa da Mata. A primeira era de estar ouvindo Maria Rita nas notas altas e abertas e Marisa Monte nos sussurros. Fechando os olhos tive dificuldade em criar uma identidade imediata para minha nova companheira de audição. A segunda sensação que me incomodou foi a impressão de que apesar das semelhanças algo estava diferente e nenhum adjetivo surgia para classificar, não exatamente a voz, mas a maneira de cantar de Vanessa.
Trabalhando com rádio à quase dois anos aprendi na prática que a expressão facial transparece na sonoridade das palavras e que dizer algo rindo é completamente diferente do que dizer algo de sobrancelhas cerradas de raiva - e no cantar isso é semelhante.
Achei particular a forma imagética com que a voz de Vanessa se projetava. Via claramente seus gestos, sorrisos, caras e bocas que provavelmente dirigia ao seu público, sem nunca ter visto uma apresentação dela nos palcos. O primeiro adjetivo que me surgiu na cabeça foi vermelho. Sem saber tinha criado o padrão para analisar as próximas cantoras. Ao meu ver as cores dizem muito sem a necessidade exata de uma definição. O vermelho é a cor da fúria, da paixão, do calor, das sensações e
 energias sexuais, do ímpeto. Talvez a única cor “quente” na real definição do termo. Depois desse rompante imagético os adjetivos começaram a surgir.
energias sexuais, do ímpeto. Talvez a única cor “quente” na real definição do termo. Depois desse rompante imagético os adjetivos começaram a surgir.Vanessa canta de forma sensual, latina, como se as palavras escorregassem até a ponta da língua antes de serem arremessadas ao ar. Não vi originalidade no repertório, mas pequenas pérolas que brilham pela interpretação apaixonada de Vanessa. “Pirraça”, “Ai, ai, ai”, e “Fugiu com a novela” são bons momentos.
Gostei particularmente das versões para “História de uma Gata” e para o baiano “Não Me Deixe Só”. “As Rosas Não Falam” de Noel também vale ser notada apesar do desgaste natural da música revisitada por quase todo mundo. Vanessa é vermelho, às vezes um jantar romântico no Panamá, outras um alaranjado pôr-do-sol, não exatamente um rompante furioso de um incêndio, mas um calorzinho vindo daquela fogueira da beira do mar que tinge de tons vermelhos a água salgada.
Mas lembrei que não gosto tanto assim de praia.
Céu – Céu/ Vagarosa
 Quando iniciei a audição de Céu com a trinca “Cangote”, “Comadi” e “Nascente” admito que fiquei irritado e quase pulei para a cantora seguinte.
Quando iniciei a audição de Céu com a trinca “Cangote”, “Comadi” e “Nascente” admito que fiquei irritado e quase pulei para a cantora seguinte.Sua voz era muito afinada - mas não me pareceu particularmente um destaque. O que me causou um grande desconforto foram os arranjos instrumentais e os overdubs, algumas influências confusas de sons, de vozes duplicadas, de elementos jazzísticos somados a efeitos eletrônicos improváveis. - Não é MPB !- cheguei a sentenciar em certo ponto.
O conceito de “música popular brasileira” não podia ser aplicado ao som deturpado cheio de elementos estrangeiros e sonoridad
 es que hora me lembravam a sofisticação de um bar Nova Yorkino, hora o charme esfumaçado da noite parisiense.
es que hora me lembravam a sofisticação de um bar Nova Yorkino, hora o charme esfumaçado da noite parisiense. Depois que passei desse primeiro estágio da audição comecei a ser mais complacente com a voz da bela Céu.
Encontrei sobre as camadas exageradas de sons e instrumentos uma entrega interessante de conteúdo. Com um pouco de boa vontade, e sem ligar o som ao rótulo de MPB da embalagem, podemos ver as experimentações de Céu como algo inovador, próximo de um acid jazz ou de um “MPB progressivo” se é que isso é possível. Tirando os sintetizados e os metais desnecessários a voz de Céu emociona pela palidez e chega a sumir em algumas canções; quase rouca a performance atinge em alguns bons momentos algo nacional muito semelhante a requintadas intérpretes internacionais.
Não pude deixar de notar uma aura de Madeleine Peiroux sondando as canções de Céu. “Concrete Jungle” é legitimamente internacional. Existem alguns suspiros de MPB como em “O ronco da Cuíca” e “Vira-Lata”, mas nada que afaste da cantora sua cara de sofisticação internacional.
Diferente do óbvio, Céu não é azul, mas ocre. Uma cor oscilante, um quase sem tom, capaz de ser visto e apreciado em diversas paisagens - mas sem um lugar comum, desapegado das raízes das cores primárias. Uma cor predileta para poucos, mas que traz o charme exótico do não convencional.
quinta-feira, setembro 10, 2009
Os Homens que Não Amavam as Mulheres - Stieg Larsson

Os amigos internautas já devem ter percebido que me atrasei na postagem dessa semana. Peço desculpas. Alguns problemas que não vêm ao caso acabaram por causar essa demora. Mas vamoquevamo!
É o seguinte, vocês já devem ter percebido que gosto de uma literatura leve, daquele tipo que não cai em vestibular e não é tema de roda intelectual – apesar de não desgostar de alguns clássicos também. No momento estou lendo Dom Quixote novamente, após muitos anos; sendo que a primeira vez que o li foi em uma tradução/adaptação que definitivamente não é tão rica quanto o original, ou mesmo quanto boas traduções lusitanas. O caso é que estou lendo uma boa tradução, cheia de referências e tudo o mais, e com isso a leitura tem sido lenta... Aguardem o texto no futuro.
Anteriormente ao fidalgo de
Em igual medida a seu personagem, o autor foi ativista político e jornalista influente na sociedade sueca. Uso o verbo no passado, pois Stieg Larsson morreu em 2004, pouco depois de entregar sua trilogia às máquinas da editora que a publicaria.
Admito que o nome soe, no mínimo, estranho; algo como um romance voltado ao público homossexual. Não se engane, isso foi uma escorregadela da nossa sempre eficiente “Central Brasileira de Traduções – Seção Filmes e Livros”; a tradução literal do sueco seria algo como A Menina com a Tatuagem de Dragão.A trama toda é amarrada muito bem, além de, para um desinformado, o romance policial só se apresentar lá pela página 100. Nisso lhe restam mais de 400 páginas de belas paisagens suecas, frio, suspense inteligente, e informações tecnológicas bastante detalhadas.
Em linhas gerais, a história é essa: De cara somos apresentados a um mistério acerca de umas flores que chegam todo ano, ao longo de quarenta anos, à casa de um senhor. Fique tranqüilo, pois dali em diante a parte misteriosa de OHNAM desaparece por um tempo considerável. Lisbeth Salander, co-protagonista da trama aparece como uma jovem esquisita e anti-social que usa de artifícios tecnológicos para trabalhar (leia-se hacker – você perceberá isso imediatamente). Surge Mikael Blomkvist, proprietário e editor chefe da revista Millenium, veículo respeitado e independente, pronto para disparar verdades sobre os tubarões da economia sueca. Em um tiro mal dado, Mikael é processado por um grande investidor e tem de se afastar da revista, o que abre uma brecha para que um milionário aposentado o contrate para escrever a biografia da família.
A partir daí a coisa toda esquenta. Fatos históricos como a Segunda Guerra, a crise da década de 30, e até mesmo a bolha dos Tigres Asiáticos servem de pano de fundo para que os podres da família Vanger venham à tona. Um grande mistério atormenta o patriarca da família. Um desaparecimento. Pistas coletadas minuciosamente. Uma companheira inesperada. Uma descoberta ainda mais escabrosa do que se imaginava.
Sim, o ritmo fica alucinante em dado momento. Admito que me surpreendi. Não achava que era um romance policial quando comprei o livro, mas fiquei gratificado com o bom desenvolvimento e com a escrita cativante de Stieg Larsson. O fato de o final do mistério acontecer antes do fim do livro também foi uma agradável surpresa, visto que deixou a obra um pouco diferente da massa de romances policiais.
Não vou contar muito mais. Creio que consegui colocar uma pulga na orelha de algum de vocês. Aliás, o livro está saindo uma pechincha na maior parte das grandes livrarias. Confesso que só comprei um livro totalmente desconhecido, de um autor sueco que eu nunca ouvi falar, porque custava meros R$ 19,90 (na livraria Martins Fontes) e eu estava de bobeira na Paulista.
Estou curioso pelos outros volumes, cujos nomes são muito menos constrangedores. Já pesquisei e os títulos estão com um valor quase tão irrisório quanto o OHNAM. O que aguardará Mikael e Lisbeth
P.S.: Acabei de ler algumas críticas e não é que o tal Larsson “tá bombando”? Pois sim! Nas listas de mais vendidos em muitos dos 35 países no qual foi publicado. E há um filme sueco que irá estrear em breve, com o primeiro volume. Como eu não ouvi falar antes disso, hein? Será que estou tão alienado assim? Putz, não vou reescrever tudo, pessoal!
quarta-feira, setembro 02, 2009
Joe Johnston

Com pelo menos três filmes, cinco discos e três livros começados e não digeridos o post desta semana era uma incógnita. Não imaginava sobre o que poderia escrever e não queria antecipar nenhum dos assuntos futuros sem dar a eles a atenção necessária.
Decidi então falar sobre um daqueles nomes perdidos no meio da história, coadjuvantes com algum brilho, mas que nunca aparecerão como protagonistas. Em qualquer site ou blog sobre cinema(inclusive neste) veremos Hitchcock, Spielberg, Scorcese, Coppola, Kubrick e tantos outros nomes incontestáveis em qualquer seleção, mas poucos dedicam algumas linhas aos diretores que completam o “time” e que são responsáveis por filmes que ocasionalmente assistimos e que garantem alguns bons momentos em frente a tela.
O contemplado para assumir o posto de “Zé-ninguém” ou “Joe Doe” desta semana é o diretor Joe Johnston. Você provavelmente não deve ter ouvido falar deste nome; mas se você viveu neste planeta nas últimas três décadas, com algum acesso a televisão e cinema, certamente assistiu algum filme com a assinatura de Johnston nos créditos.
 Sabe os dois primeiros longas da série “Indiana Jones” ? E o segundo “Guerra nas Estrelas”? Então ele não dirigiu nenhum deles como todos sabemos, mas foi o diretor de efeitos especiais dos três filmes. Quem não se lembra da pedra rolando atrás de Harrisson Ford em “Caçadores da Arca Perdida”, ou da ponte pênsil em “O Templo da Perdição”? E a batalha entre os gigantescos andadores AT-AT e a resistência rebelde na batalha do palneta gelado de Hoth em “O Império Contra-ataca” ? Cenas históricas do cinema de aventura com um toque de Johnston.
Sabe os dois primeiros longas da série “Indiana Jones” ? E o segundo “Guerra nas Estrelas”? Então ele não dirigiu nenhum deles como todos sabemos, mas foi o diretor de efeitos especiais dos três filmes. Quem não se lembra da pedra rolando atrás de Harrisson Ford em “Caçadores da Arca Perdida”, ou da ponte pênsil em “O Templo da Perdição”? E a batalha entre os gigantescos andadores AT-AT e a resistência rebelde na batalha do palneta gelado de Hoth em “O Império Contra-ataca” ? Cenas históricas do cinema de aventura com um toque de Johnston.  Sua carreira como diretor teve início em 1989 com o divertido “Querida Encolhi as Crianças” clássico vespertino repetido a exaustão pelo SBT. Me lembro até hoje que quando criança tinha um medo enorme do filme e gravei diversas cenas que para mim se tornaram recordações de infância: como aquela das crianças minúsculas andando pelo jardim ou da sopa aonde o personagem de Rick Moranis quase engole um de seus filhos.
Sua carreira como diretor teve início em 1989 com o divertido “Querida Encolhi as Crianças” clássico vespertino repetido a exaustão pelo SBT. Me lembro até hoje que quando criança tinha um medo enorme do filme e gravei diversas cenas que para mim se tornaram recordações de infância: como aquela das crianças minúsculas andando pelo jardim ou da sopa aonde o personagem de Rick Moranis quase engole um de seus filhos.Impossível não lançar um suspiro nostálgico.
Johnston dirigiu em 1991 a aventura “Rocketeer” outro
 marco das tardes da década de 90, dessa vez eternizada nas repetições da platinada.
marco das tardes da década de 90, dessa vez eternizada nas repetições da platinada.A adaptação da graphic novel de Dave Stevens agradou jovens e adultos; me lembro claramente de jogar em meu Megadrive (ou seria no Nintendo 8Bits ?) o game que seguia o enredo do herói com um propulsor nas costas perseguido por espiões barra-pesada. Diversão inocente que a garotada de hoje não entenderia.
Depois de um tropeço junto ao astro mirim Macaulay Culkin em “The Pagemaster”, Joe acertou novamente e dessa vez cravou um sucesso de ótima bilheteria com o empolgante “Jumanji”(1995).
A todos nós cansados das
 aventuras meia boca e sem criatividade que envolvem cães e simios superdotados jogando esportes diversos o filme conseguiu dar um sopro de originalidade, e se não é um grande nome pelo menos quebra o galho. Algumas cenas são realmente muito boas, sempre abusando dos efeitos especiais - maior assinatura de Johnston.
aventuras meia boca e sem criatividade que envolvem cães e simios superdotados jogando esportes diversos o filme conseguiu dar um sopro de originalidade, e se não é um grande nome pelo menos quebra o galho. Algumas cenas são realmente muito boas, sempre abusando dos efeitos especiais - maior assinatura de Johnston. Vale ainda creditar aqui à filmografia do diretor a seqüência “Jurassic Park III” que na minha opinião é passável. Ainda dou risada com a cena aonde um celular toca na barriga do dinossauro gigante maior que o T-Rex...
Para finalizar tive uma grata surpresa ao ver o que vem pela frente... Já havia encontrado cenas na web com a espantosa caracterização do ator Benício Del Toro para a nova versão do filme “O Lobisomem”(The Wolfman)
 mas não imaginava que o longa seria dirigido por Johnston. Será interessante ver como a câmera do diretor se sairá em um suspense. Confira o trailer na filmografia ilustrada do diretor.
mas não imaginava que o longa seria dirigido por Johnston. Será interessante ver como a câmera do diretor se sairá em um suspense. Confira o trailer na filmografia ilustrada do diretor.Para esperar e temer foi anunciado que o diretor prepara para 2011 uma adaptação que há muito tempo entra e sai dos planos dos grandes estúdios. Será dele a culpa do sucesso - ou do fracasso - da versão cinematográfica do herói mais nacional que os Estados Unidos concebeu. Sim ele, o cara que veste uma bandeira e uma estrela na testa, o supersoldado Capitão América.
Pois é, logo o “anonimato” de Johnston chegará ao fim para o bem ou para o mal. Sinceramente torço para que nenhum desses longas estoure como uma bomba nas mãos dele.
Longe de ser um John qualquer, não daria a ele um Oscar ou uma Palma, mas talvez o troféu “Diretor Camarada” por ter prestado ao cinema uma ótima contribuição quase anônima.
Veja aqui a Filmografia ilustrada e sinta a nostalgia...